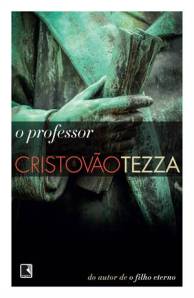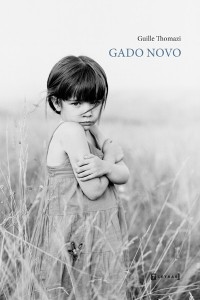Por Alberto Nannini
 Na resenha anterior, comentei que havia lido duas obras sobre Cuba: “A casa dos náufragos”, de Guillermo Rosales, e “Cuba – Minha revolução”, de Inverna Lockpez e Dean Haspiel. Pretendia naquela ocasião utilizá-las para falar sobre o controverso regime cubano, mas, ante a riqueza do livro de Rosales, a resenha foi toda baseada nele, e falou sobre a loucura.
Na resenha anterior, comentei que havia lido duas obras sobre Cuba: “A casa dos náufragos”, de Guillermo Rosales, e “Cuba – Minha revolução”, de Inverna Lockpez e Dean Haspiel. Pretendia naquela ocasião utilizá-las para falar sobre o controverso regime cubano, mas, ante a riqueza do livro de Rosales, a resenha foi toda baseada nele, e falou sobre a loucura.
Agora, retomo a proposta original, resenhando a segunda obra e utilizando ambas para tocar no assunto bem espinhoso: o regime imposto por Fidel Castro.
Cuba – Minha revolução
A sinopse da obra, uma graphic novel, diz:
“Quando Fidel Castro toma a cidade de Havana no despertar do ano de 1959, Sonya – então com 17 anos – acredita nas promessas da Revolução Cubana. Estudante de medicina que sonha em virar pintora, ela junta-se à milícia e acaba presa entre o idealismo e a ideologia. Como voluntária na Baía dos Porcos, ela se choca ao encontrar um antigo amor do outro lado do campo de batalha, e mais ainda quando é presa e torturada pelos seus próprios camaradas. Com cicatrizes físicas e emocionais, Sonya tenta encontrar satisfação na arte. Mas, quando se dá conta de que nenhuma de suas iniciativas – seja com uma arma ou um pincel na mão – se enquadra no novo regime, ela precisa fazer escolhas entre sua família, seu amor e seu amado país. Ilustrada pelo artista indicado ao prêmio Eisner, Dean Haspiel (The Alcoholic), esta história é baseada em fatos reais.”
Publicada pela Panini Books, é caprichada: capa dura, papel couchê, e colorida em quatro cores: branco, preto, e tons de vermelho e cinza. Os desenhos são excelentes, e comunicam muito além do texto, como toda boa obra de quadrinhos: enquanto a narradora divaga ou recorda, as ações desenhadas podem mostrar outras ações.
Aliás, um parênteses: imagino que leitores deste blog não tenham preconceito com quadrinhos – literatura da melhor qualidade vem nesta forma, como provam os livros Fun Home, Maus, Escalpo e diversos outros. Mas, caso haja em você alguma resistência, este livro é um ótimo remédio para quebrá-la: uma história fechada (em volume único), interessante, perfeitamente equilibrada e muito incrementada pelo meio escolhido para contá-la.
Voltando, leia e embarque na vida de Sonya: testemunhe o que é viver a gênese de uma revolução, passar por mudanças radicais e veja o quanto isso vai afeta-la e a todos que a cercam.
Engajada e prisioneira
Idealista, a personagem rememora seus 17 anos, quando Cuba ainda estava sob o jugo de Fulgêncio. A mãe dela, muito bonita, é fútil; o padrasto, um sujeito prático; e o pai, russo e mais distante, médico.
 Sonya não se conforma em apenas assistir a revolução iminente. Quando o carismático Fidel Castro sobe ao poder e profere seu 1º discurso em rede nacional, em 8 de janeiro de 1959, ela se decide: vai se alistar na revolução. Suas ambições em ser uma artista ficarão em segundo plano – se tornará médica, para melhor servir à causa.
Sonya não se conforma em apenas assistir a revolução iminente. Quando o carismático Fidel Castro sobe ao poder e profere seu 1º discurso em rede nacional, em 8 de janeiro de 1959, ela se decide: vai se alistar na revolução. Suas ambições em ser uma artista ficarão em segundo plano – se tornará médica, para melhor servir à causa.
Como voz de fundo, vão aparecendo as consequências do novo regime: o comércio do padrasto vai à falência, e depois, todos os outros comércios são fechados; os revolucionários passam por treinamento de guerrilha, e médicos, como ela, não podem atender prisioneiros; muitos fogem do país, e o estado de guerra prossegue.
Há também uma história de amor, perdida e reencontrada, como conta a sinopse. O inferno de Sonya está só começando. Acusada de ter amigos na agência americana CIA, é levada prisioneira, e torturada sistematicamente para confessar. Mas isso ainda não quebra sua confiança na revolução.
Quando é solta, sua irmã por parte de mãe nasceu, mas não há muita esperança. O novo governo vem se mostrando tão ruim ou pior que o anterior. Apesar de uma tintura de normalidade, que envolve um casamento, ela se divide entre continuar fiel à causa ou tentar se safar – este é o dilema que vai dar o tom da história.
Quase biografia
Embora a autora tenha utilizado uma personagem, ela conta que o roteiro foi baseado na sua vida – veja o agradecimento: “Queria agradecer ao Dean Haspiel por ter me encorajado a contar minha história”. Ainda que caiba interpretar a qual história ela se refere, esta frase, uma vez entendida dentro do contexto do livro e após algumas pesquisas, embasa essa premissa.
O mérito literário é significativo: trata-se de uma leitura fluida, apesar de contar um drama com passagens pesadas. A construção da narrativa com tintas autobiográficas tem o ritmo daqueles filmes em que o personagem mais velho conta sua história, e as passagens da sua juventude o retratam exatamente como era – no caso de Sonya, a voluntária que podia estapear alguém que contestasse o regime, ou que brigaria com quem mais ama pela revolução – e, conforme passa o tempo, retrata suas mudanças e amadurecimento.
Aliás, da mesma maneira que o livro de Guillermo Rosales, não vejo como contar uma história como esta sem muito conhecimento de causa. Ainda que não se possa determinar o quanto dela foi inventado, uma vez que a autora e a personagem são nativas de Cuba, exiladas, ex-revolucionárias, ex-médicas e artistas, parece suficiente para admitir como algo que vai além do “baseado em fatos reais”.
Talvez coubesse alguma precaução contra a amargura dos desiludidos, que, eventualmente, podem retratar seus algozes com piores tintas e características; contudo, a autora, por meio de sua personagem e alter ego, não perde tempo demonizando-os – ela foca mais sua vida e experiências, dentre as quais a revolução e seus agentes são ingredientes. De qualquer maneira, o retrato que ela dá daquele país é condizente com outras narrativas, inclusive a do já citado Guillermo Rosales, em “A casa dos Náufragos”.
Até aqui, já é possível recomendar a leitura como um drama digno de ser lido, e que ainda vai ensinar coisas sobre a ilha que só quem lá viveu saberia. Partindo disto, então, é possível aprofundar a discussão: o que há em Cuba?
Marcando posição pela liberdade
Humildemente, preciso ressaltar a falta de alcance desta resenha para retratar algo tão complexo como um dos regimes mais controversos da história recente. Mas, como todos, eu tinha alguma opinião pré-estabelecida sobre isso, e li livros (selecionados?) que a reforçou em alguns sentidos.
A virulência dos atacantes e dos defensores de Cuba sempre me impressionou. Os defensores apoiam o exemplo do regime, suas taxas de escolaridade, a resistência ao imperialismo americano, a excelência em ciência, esportes e medicina. Os detratores apontam os massacres de inocentes, a pobreza e falta de opções, o cerceamento de liberdade, o controle absoluto do Estado em tudo – dos bens de consumo aos itens básicos de sobrevivência.
Aqui, já posso marcar posição: acho a liberdade mais importante do que quaisquer eventuais benesses que o governo possa me oferecer. No regime onde fui criado, o Estado tem obrigação (nem sempre bem cumprida) de fornecer um mínimo operacional em estrutura, e de não cercear minha liberdade.
Ainda que caibam muitos senões – de diversos tamanhos – a estes reducionismos, e haja ataques mais ou menos ruidosos à liberdade mesmo nas melhores democracias, estas sempre vão me parecer melhores que as alternativas.
Uma vez que faltam opções melhores, cumpre tentar melhorar e aperfeiçoar o que se tem (que não é pouco), e aprender com os erros que os piores regimes ensinaram.
 Reis e mares de sangue
Reis e mares de sangue
Uma lição aprendida é: tirania de qualquer espécie é ruim, não importa como ela tenha surgido. Relativizar não cabe: trocar um tirano péssimo por um “mais bonzinho” equivale a preferir ser sequestrado por bandidos corteses aos sanguinários – óbvio, mas duas péssimas alternativas de qualquer jeito. Ao se confiar em um só homem ou em um colegiado deles com poderes extremos, necessariamente se abre mão de muitas premissas: a individualidade, a liberdade, a própria vontade de se expressar e de inovar.
O tirano é um mal em si. Já disseram que os bem-intencionados são ainda mais perigosos, porque suas ações são difusas e confundem – eles oferecem algo, e tomam outro tanto, muitas vezes sem as pessoas se darem conta.
A tirania sempre assolou e continua assolando a humanidade, com várias roupagens: monarcas, caudilhos, militares e até dinastias. Pessoas que mandam nas vidas dos outros, e que, invariavelmente, acumulam o máximo de benesses para si. A lista é vasta, e inclui algumas das piores e mais danosas personalidades de todos os tempos: Pol Pot, Hitler, Mobuto, Kadafi, os Kim norte-coreanos, Mao Tse Tung, Stalin – a contagem de seus cadáveres passa da centena de milhões. E inclui Fidel, que mandou fuzilar inimigos, e que teria vastas posses, como uma ilha particular, num país onde a propriedade privada era proibida para todos os efeitos.
Mesmo assumindo um viés utilitarista, e aceitando que os governantes em geral precisam tomar decisões difíceis, que eventualmente traga sofrimento e até mortes, os erros e pecados dos tiranos não podem ser atenuados, porque eles pensam primeiramente em si mesmos e em seus apadrinhados, e porque não medem o custo de seus caprichos.
Esta é uma diferença significativa entre os regimes despóticos e as democracias, mesmo as mal estabelecidas. É verdade que há políticos tão ruins e gananciosos quanto qualquer tirano, mas a democracia não lhes dá plenos poderes, nem permite que eles os usurpem impunemente.
Esta argumentação é feita tendo em vista o defensor ferrenho do castrismo: aquele que acha que a democracia é ruim, o capitalismo é péssimo, Fidel é um grande herói e que é pena não haver algo assim por aqui. Aliás, este opositor é um tanto bizarro: ele acredita que conhece mais deste regime do que quem o viveu na pele, e até lutou por ele, como no caso de Inverna Lockpez.
Este tal defensor ferrenho acha ter maior autoridade que nativos como Yoani Sanchez, blogueira cubana que já foi presa e vivia sobre constantes ameaças, e a chama de “vendida” (segundo eles, ela teria um conluio com a CIA, agência americana). Ou seja, ele maximiza os (muitos) erros e falhas da democracia e do capitalismo, e costuma minimizar ou desconsiderar o custo da ditadura castrista e às vezes também de outras ditaduras, conforme sua orientação ideológica.
E é aí que ele erra.
 Males do socialismo…
Males do socialismo…
A construção do tipo “tal coisa é péssima, veja seu (pior) exemplo/ em compensação, tal coisa é ótima, veja meu (melhor) exemplo” é tão comum que se impregna em discursos bastante variados. Ufanismo vs. “complexo-de-vira-latas”, feminismo vs. misoginia, progressos vs. tradições, nacional vs. estrangeiro. O que há em comum entre estas cismas é que as posições extremas que qualquer um dos lados adotam não resistem a um exame mais apurado.
O radicalismo sempre tende a errar pelo excesso. A crítica absoluta do regime de Fidel é mais ideológica do que pensada; mas o inverso também é válido. A defesa exagerada deste chega a ser desrespeitosa, com o tanto de medo, de mortes, torturas e exílio que ele gerou.
No final das contas, tudo vai pender para simpatias pré-definidas, cismas e valores particulares. O fiel da balança vai ser aquilo que mais vale para o argumentador.
Críticos do capitalismo pregam um mundo imaginário onde todos recebam o mesmo, e tenham as mesmas oportunidades. É um dos melhores cenários – pena que a História demonstre cabalmente que ele não consegue ser posto em prática por nenhum método ou sistema inventado até hoje.
Contra o socialismo, de maneira bastante simplista, eu me questiono: ao se recompensar a todos de maneira igual pelo o que quer que façam, não parece óbvio que logo vai se perceber que não vale a pena trabalhar muito? Já que o que se obtém não está ligado ao trabalho duro, à vontade de inovar e de criar, nem há mérito em nada que se faça, tanto faz o empenho com que se trabalha.
Se a contestação é que quem pensar nisso é trapaceiro, então precisaria haver uma “solução final” para eliminá-los, porque todas as sociedades humanas (e até algumas de animais) têm os trapaceiros – aqueles que percebem que podem ficar à custa dos outros. O que me parece é que, numa sociedade comunista, a trapaça pode se tornar contagiosa.
Talvez se argumente que o socialismo ideal constrói uma sociedade onde o papel de cada um seja respeitado, e onde todos têm a mentalidade de que, dando seu melhor, todos ganham (o que, segundo alguns especialistas, resultaria no comunismo propriamente dito). Mas esta sociedade utópica não precisa ser necessariamente socialista. O capitalismo seria muito melhor assim, embora o que realmente aconteça esteja bem distante disso, como vamos ver mais adiante.
A principal falha do socialismo cubano, o que fez virtualmente ruir o regime castrista e todas as tentativas similares, não é apenas a superioridade da economia de livre mercado, mas algo que pode fazer ruir a sociedade moderna: os gananciosos homens.
Nenhum sistema dispensa homens para dirigi-los. Até a anarquia acabaria elegendo seus “cabeças”. E é aqui que a coisa realmente fede: são muitos os carniceiros que assumem o título de soberanos. Ditadores, como o próprio Fidel, nem são o pior que existe: há déspotas mais sanguinários ainda, que não se preocupam em dar qualquer contrapartida à população, a não ser aquele mínimo que os perpetue no poder, e apenas porque reis precisam de súditos e servidores. Houve e há muitos destes na África, que apenas enriquecem roubando. E há ainda a bizarra dinastia de ditadores com poderes semi-divinos na Coreia do Norte (alvo de uma das minhas próximas resenhas).
Enfim, a ganancia dos socialistas que exercem o poder não fica nada a dever aos piores capitalistas, com o agravante que seus desvios e desmandos vitimam diretamente a população que governam. Está muito bem testemunhado no livro de Inverna Lockpes este proceder.
 …e males do capitalismo
…e males do capitalismo
Eu tinha uma opinião rasa de que o capitalismo e a democracia eram os dois melhores sistemas possíveis, apenas sendo necessários ajustes do tamanho ideal do Estado e de sua intervenção. Pesquisei mais, e ainda acho que, combinados, formam o melhor disponível; mas as mudanças precisam ser feitas imediatamente, ou tudo que conhecemos poderá desabar.
Indícios do caos vieram com a crise econômica mundial, que levou bancos e até países ao colapso, há seis anos. Isto demonstrou o quanto o mercado é vulnerável às suas próprias liberdades e excessos. Um cenário com a economia se liquefazendo e bancos quebrando geraria pânico, aonde populações inteiras veriam suas economias sumirem, e o resultado seria um Deus-nos-acuda. Os exemplos – como a Finlândia e a Argentina – são preocupantes. Em escala mundial, isso poderia gerar uma catástrofe sem precedentes.
Porém, este não é a única falha possível: há um “bug” no sistema capitalista, só recentemente detectado, até onde eu sei. Analistas respeitavam um cenário chamado “a curva de Kuznets”, de um economista bielorrusso, Simon Kuznets. Ela dizia, grosso modo, que num país em desenvolvimento, o gráfico da desigualdade imita a forma da letra “u” invertida (ou Curva de Gauss): de pouca desigualdade, já que todos começariam pobres, ela subiria bastante com os investimentos (cujas melhores recompensas vão para poucos); mas depois cairia de novo e se estabilizaria, conforme o progresso se instalasse.
Porém, o economista francês Thomas Piketty compilou seus estudos num livro de mais de 700 páginas, chamado “O capital no século XXI”, bastante polêmico, onde contesta a curva de Kuznets, com uma grande análise de dados estatísticos referentes às rendas de habitantes de alguns países ditos “de 1º mundo”.
Piketty percebeu que a desigualdade não se estabiliza depois da instalação do progresso, pelo simples fato que, no capitalismo como é hoje, tudo favorece que os mais ricos enriqueçam mais e num ritmo maior do que a camada mais pobre e muito mais numerosa progrida e ascenda nas classes sociais. Na verdade, a desigualdade aumenta, ainda que, na teoria, haja menos pobres – enquanto eles ascendem um pouquinho nas suas posses e independência, os já ricos ficam milionários, e os multimilionários, bilionários.
Isso se dá porque o sistema econômico, como o concebemos hoje – globalizado, interligado e quase onipresente – está recompensando mais aqueles que invistam seu dinheiro fora da cadeia de produção. Especulação imobiliária, carteira de ações, heranças e ganhos de capital em cima de capital dão retorno maior que produzir e empreender, e traz menores custos.
Sem produção, o intricado modelo de mercado desanda – é como tirar uma engrenagem de uma máquina. Vão quebrando todos os sistemas interligados: empregos, capacitação, crédito. Aí, a ascensão das classes desfavorecidas fica cada vez mais difícil, e tudo recai nas costas do Estado. Se este for bem administrado, até pode suprir, por um tempo; mas, se for inchado e obsoleto – como o nosso – aí, complica.
O modelo atual não é sustentável independente da eficiência do Estado. O sistema capitalista está rumando ao colapso. A desigualdade é sentida na pele, e provoca um clima belicoso, gera exclusão e violência, que podem resultar em tragédia. Fora isso, as regras mudam para cada indivíduo, na medida em que haja mais dígitos em sua conta bancária. Ricos são imunes às leis, mandam suas fortunas para paraísos fiscais, não declaram ganhos, e enriquecem cada vez mais. Mas os cidadãos pobres e os médios – como eu e provavelmente você – pagam seu imposto até o último centavo, não tem a quem recorrer, e são esfolados de todos os lados.
Para piorar o cenário, as oportunidades não são nem nunca foram iguais. Por exemplo, o ingresso em universidades públicas. Se fosse uma corrida de 400 metros com barreiras, poderia se alegar que todos que ingressam na faculdade começarão do mesmo ponto. Mas se esquece que há os nascidos em berço de ouro que nada fizeram a não ser se preparar para esta corrida de cartas marcadas, e foram carregados até a linha de partida. Já outros, tiveram que “correr” a vida inteira, por quilômetros, entre empregos mal remunerados, educação de baixa qualidade e pouco acesso à cultura.
Se você fosse apostar nesta corrida imaginária, e visse um corredor que já vai começar a prova cansado, suado e arfando, com as mãos nos joelhos, enquanto outro está descansado, super equipado e bem preparado, apostaria em quem?
Pela falta de oportunidades, a maioria nem mesmo chega à linha de partida, para disputar a tal corrida. E o ingresso em faculdade pública é só uma de muitas corridas, todas claramente desequilibradas.
O fato é que a desigualdade é um fato incontestável nas sociedades capitalistas. As sociedades socialistas parecem ter mais igualdade, mas apenas porque, fora os governantes privilegiadíssimos, todos os outros sofrem terrivelmente, de maneira parecida.
Justiça à meritocracia
Há uma particularidade nas sociedades democráticas capitalistas que sofre também com defesas e ataques extremos: a meritocracia.
Em minha opinião, é uma grande invenção. Graças a ela, existe alguma justiça no sistema. Antes dela, e mesmo hoje, onde ela não vigora, imperam sistemas de castas. As pessoas ficam condenadas a ser aquilo para o que nascem/herdam. É o caso dos intocáveis da Índia.
Contudo, ela não pode ser colocada como a “solução mágica”, nem distorcida para controle e acusação dos desfavorecidos. Isso porque, ao apontá-la como solução, utilizando como exemplo pessoas que, fora da curva, conseguiram vencer na corrida por empregos e uma vida digna, mesmo saídos da base da pirâmide social, se endossa o discurso errado de que a culpa dos milhões e milhões que não ascendem é exclusivamente deles mesmos, que não teriam estudado e batalhado o suficiente. Absurdo. Nem todos partem nas corridas da mesma linha de largada.
Também há que se apontar que os critérios de medição dos méritos nem sempre são claros ou justos. Mas tenho certeza que você preferirá trabalhar em qualquer lugar onde seu esforço seja reconhecido em algum momento, e não onde você esteja condenado a ficar submisso a outros que não tem suas competências, mas somente influências ou parentesco com os poderosos.
Veja, não estou dizendo que não haja isso por aí – há sim, e bastante. Pode ser que você seja vítima da meritocracia do QI – “Quem Indica”, ou do nepotismo, que pode favorecer incompetentes. Mas o desrespeito a ideia não a enfraquece, da mesma forma que o fato de haver quem queira levar vantagem em tudo não enfraquece a honestidade. Ao contrário, a torna mais necessária. A meritocracia é uma ideia tão poderosa que, nas sociedades competitivas, quando é ignorada, traz mais prejuízo que lucro.
O grande porém é que ela não basta para balancear a situação vigente de oportunidades tão díspares. Pode corrigir um pouco as injustiças, mas são necessárias ações afirmativas parta diminuir a desigualdade – como é o caso das cotas raciais, contra as quais eu mesmo me posicionava, antes de refletir melhor.
Enfim, para atacar mesmo a desigualdade, seriam necessárias ações mais drásticas. Piketty sugeriu taxar fortemente as grandes fortunas. Há muito barulho condenando isso, o que não é de se admirar – há muitos que condenam a provisão de cerca de 0,5% do PIB brasileiro para o programa de distribuição de renda Bolsa Família, exemplo mundial e comprovadamente efetivo.
 Críticas a todos
Críticas a todos
Isto posto, e tendo, como de costume, me alongado, resumo aqui a ópera: Cuba teve o valor de tentar um novo sistema, conseguiu progressos científicos, educacionais e esportivos. “Peitou” o maior império do planeta. Mas pagou preços altos, deixando sua população à míngua (conforme relatos dos próprios habitantes), e se tornando obsoleta em muitos dos avanços que tinha conseguido. O comunismo idealizado por Karl Marx apenas inspirou o regime de Cuba, que acabou distorcido.
O capitalismo, por sua vez, reina no mundo, mas traça uma rota insustentável de enriquecimento sem limites dos que já são ricos, falta de interesse em produção e falta de uma ética que recuse lucros a qualquer custo. Ou seja: qualquer indústria ou comércio que gere bilhões vai pesar se compensam os riscos; se os dividendos forem fartos, não há limites para o que possa virar comércio: tráfico de pessoas, mão de obra análoga à escravidão, entorpecentes, armas etc. Tudo em nome de Mammom – o deus-dinheiro.
Mas enfim, os dois autores dos livros mencionados, Inverna Lockpez e Guillermo Rosalez, mostram a derrocada de Cuba, perdendo seus artistas e intelectuais justamente para seu arqui-inimigo. Claro que eles são amostra pequena, mas, só por eles, arrisco afirmar que o regime castrista é um arcaísmo. Há que se registrar também que o maior libelo do capitalismo, os EUA, começam a experimentar decadência – um bom exemplo é a cidade de Detroit, que já foi uma das maiores e mais avançadas metrópoles do mundo, e hoje, agoniza, tentando sobreviver com medidas que estimulem a reocupação de seus bairros inteiros abandonados.
Em relação ao tópico “tiranos”, afirmo, categórico: eles são sempre desprezíveis. A tirania é causa de prejuízos incomensuráveis – de vidas, de recursos, de avanços. Tiranos como o próprio Fidel tinha o poder de mandar fuzilar quem dele discordasse. Qual pessoa permaneceria sana com um poder destes na mão? Estes seres nem sempre humanos desviam recursos para si e seus apadrinhados, sem se dar conta da culpa de sangue que existe nesta atitude: toda a pessoa que morra por falta de recursos desviados (de hospitais, digamos), recai sobre quem desvia. Isso vale, lógico, para políticos.
Ainda sobre os tiranos, registro que eles não são só governantes de países ou ditadores: há deles em todos os lugares. Há os chefes tiranos, que sentem prazer em humilhar os subalternos; há até os amigos tiranos, que não admitem serem contrariados e não aceitam brincadeiras, embora a todos contestem e tirem sarro; enfim, pode existir tirania onde quer que haja uma relação de poder.
O detalhe é que toda relação humana é uma relação de poder. Em casamentos, em família, até de pais com filhos, sendo que alguns defendem que as crianças e jovens (e nem tão jovens) de hoje tiranizam seus pais e responsáveis, que acabam reféns de seus caprichos e vontades, como um fardo eterno.
O que precisa ser feito
Voltando à política, ditaduras, que pressupõem tirania (de um ou vários), nunca são uma boa escolha. A democracia tem defeitos evidentes, inclusive abriga tiranos muito poderosos, sejam pessoas ou instituições, como políticos, a polícia e outros. Verdade. Mas há liberdades na democracia que simplesmente não existem em outros sistemas. Isso é um fato. Se há desrespeitos a estas liberdades, e por mais reprimidos que sejam alguns direitos, como o de livre manifestação, ainda é possível articular uma resistência e lutar por mudanças – algo bem difícil de fazer quando se está vendado num paredão de fuzilamento, ou escravizado num campo de trabalho forçado ou ainda, silenciado pelo medo ou mesmo “sumido” da face da terra.
Se foram apontados defeitos e criticados os principais macrorregimes econômicos, é porque, mesmo a um leigo, pareceram evidentes suas falhas. Contudo, prefiro tomar a posição e valorizar a democracia – o menos pior dos regimes – a apenas criticar sem nada propor. A desigualdade pode e precisa ser combatida, com ações afirmativas de inclusão, mesmo que pareçam paliativas ou até desproporcionais, como, por exemplo, cotas raciais e assistência do Estado para redistribuição de bens. Elas visam corrigir distorções e, de maneira secundária, mudar a mentalidade segregacionista em vários níveis. Estas medidas só parecem erradas porque há pouco interesse real em mudanças significativas, e porque a correção de erros radicais pode precisar ser radical, ao menos de início.
Assim como os seres vivos, sistemas complexos visam a autopreservação. O capitalismo está em rota de catástrofe, e quando uma sociedade perde o balanço de estabilidade que a mantém, ou há uma correção, ou há a extinção. Os exemplos são inúmeros. Não se pode perder de vista que ele já foi uma correção a outros sistemas mais injustos ainda – e que possibilitou a criação de riqueza e progressos em vários níveis para centenas de milhões. Mas também não se pode perder de vista que hoje, muitos acham que o capitalismo é apenas servir a outro tirano – o lucro. Trocar “seis por meia dúzia” não vai funcionar.
O que deveria ser viável é que todos percebessem que o capitalismo predatório acabará com tudo – com todos os recursos ambientais e humanos, apenas para que poucos enriqueçam além da capacidade de gastar o dinheiro e muito, mas muito além da necessidade para uma vida confortável, produtiva e feliz.
Algumas iniciativas vêm surgindo, tímidas. Empresas preocupadas com os impactos ecológicos (além das obrigações por lei). Comprometidas em dar contrapartes sociais, revertidas á todos, e não apenas aos clientes. Gestão mais humana. Não buscando apenas mais lucro.
Então, um capitalismo mais responsável é possível. Sei que parece conversa de Nova Era. Utopia. Ingenuidade. E é mesmo. Mas é absolutamente necessário também. E urgente.
Claro que sempre haverá sujeitos gananciosos, que querem ser milionários. Ainda poderão sê-los, mas não a qualquer custo – especialmente de se manter miseráveis, ignorantes, dependentes e condenados a subsistência dois terços da população mundial, enquanto cerca de 1% concentra metade ou mais de todas as riquezas. Isso vai gerar revoluções sangrentas, que não ficarão restritas a uma ilha.
 ‘Tiranomaquia’
‘Tiranomaquia’
Titanomaquia, da mitologia grega, foi o embate dos titãs contra os deuses do Olimpo, que venceram e governavam tudo. A “tiranomaquia”, minha paráfrase, é o embate dos tiranos contra o resto do mundo. Tudo o que tiraniza o homem deve ser combatido, sob pena de se escravizar, disfarçadamente (ou não), a maioria das pessoas. Todos os sistemas ditatoriais, capitalistas ou não, estão inclusos; o que dirá então dos déspotas clássicos. Nós, o resto do mundo, precisamos ganhar. Não há mais lugar para Fidéis.
Há uma linha evolutiva – antigamente, a tirania era o governo comum, legitimado pelos regimes em voga, como a monarquia; hoje, eles são minoria, mas ainda resistentes em serem varridos para o lixo da história. Onde persistem, prejudicam os países que governam em todos os índices importantes, e são responsáveis por oceanos de sangue, sofrimento e morte. Sem contar que, onde há ditadura, não há liberdade – o pior cenário possível, em minha opinião.
E é por isso que uma má democracia é preferível a uma ótima ditadura.
Destituídos os tiranos de carne e osso, precisamos acabar com o tirano feito de cifrões. É bem mais difícil.